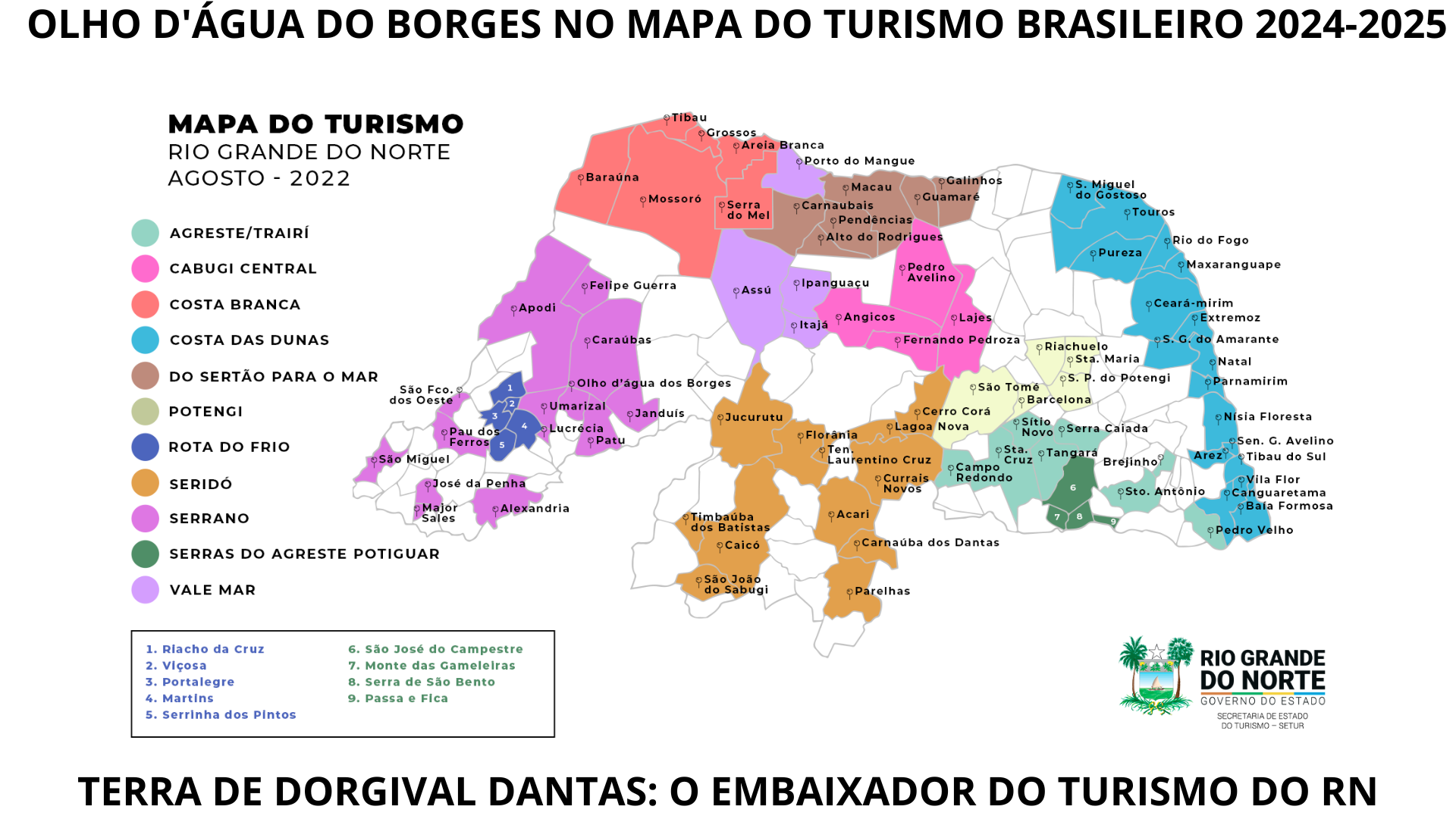Termos dão ênfase a setores que apoiaram regime de exceção
Se o dia 31 de março de 1964 ficou marcado na história do Brasil pelo golpe militar contra a democracia, a forma de recontar a ditadura que nasce dele é motivo de disputas desde os primeiros momentos de sua consolidação. A escolha de que palavras usar para essa narrativa pode revelar repúdio ao autoritarismo, apontar corresponsáveis pela manutenção do regime ou defender seus crimes contra os direitos humanos. 

Para entender essas escolhas, a Agência Brasil conversou com especialistas sobre o uso de termos-chaves relacionados ao período de exceção, que durou 21 anos. Professores especializados no assunto trataram de conceitos como “ditadura militar”, “ditadura civil-militar”, “golpe”, “revolução”, “presidente” e “ditador”. Os usos dessas palavras dão ênfases a como esse período da história brasileira pode ser interpretado.
Ditadura civil-militar
Uma pesquisa no Google, página de busca mais utilizada no país, revela que o termo “ditadura militar” é mais comum que “ditadura civil-militar”.
O professor titular de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis, atribui para si a implementação do termo civil-militar. Essa qualificação da ditadura começou a ser escrita por ele no livro Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, publicado no ano 2000.

Historiador Daniel Aarão Reis ressalta que os civis tiveram participação decisiva no golpe militar – Arquivo pessoal
Na perspectiva de Aarão Reis, o uso do termo não significa uma proposta para conceituar de outra maneira o regime de exceção. “A ditadura deve ser chamada conceitualmente de ditadura militar porque as corporações militares eram, efetivamente, as que mandavam no país, governavam o país. Então é razoável manter esse nome conceitualmente”, explica.
No entanto, o historiador explica que o uso do civil-militar foi para recuperar uma evidência que estava sendo obscurecida, “a participação ativa, consciente e fundamental dos civis desde a instauração da ditadura, em 1964”.
Ele cita exemplos que deram impulso ao surgimento do regime ditatorial. Um deles foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 1964, movimento popular religioso e conservador.
Outro foi o comportamento do então governador mineiro Magalhães Pinto, que criou um governo de unidade nacional e deu ordens para tropas golpistas se movimentarem.
Mais um exemplo é a atuação do então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, que declarou vago o cargo de presidente da República nas primeiras horas do dia 2 de abril, com o presidente João Goulart ainda em território brasileiro.
“Tem um quadro de participação decisiva de civis no golpe. Pode-se corretamente dizer que o golpe foi civil-militar”, ressalta Aarão Reis.
O professor acrescenta que os civis sempre participaram do regime ao longo da ditadura.
“Quando lancei essa expressão, foi nesse sentido, para chamar a atenção, porque a expressão ditadura militar, a partir de certo momento, passou a ocultar a participação de civis”.
O professor conta que essa participação foi exercida por veículos de imprensa, acadêmicos, e ministros com grande influência, como Delfim Netto, “um czar da economia”. “Foi para desvelar esse ocultamento que foi proposta a questão da ditadura civil-militar”.
Aarão Reis explica que há também a designação ditadura empresarial-militar, usada notadamente por historiadores de orientação marxista, para dar mais ênfase à participação e apoio de empresários.
O professor da UFF não considera o uso adequado, pois, a despeito de o “capitalismo ter dado um salto à frente na ditadura”, a expressão individualiza um grupo e não inclui uma série de outros agrupamentos, como eclesiásticos, líderes políticos e sindicais que deram sustentação ao regime militar.
Comando militar
Autor do livro Passados Presentes: o Golpe de 1964 e a Ditadura Militar, o historiador Rodrigo Patto Sá Motta, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirma que não há dúvida de que o golpe e a ditadura só existiram devido ao apoio de importantes setores sociais, principalmente das classes médias e altas, “embora em certos momentos a ditadura conseguiu empolgar alguns grupos populares”.

Rodrigo Patto não acha necessário o uso do termo civil para indicar que a ditadura teve apoio fora das Forças Armadas- Arquivo pessoal
Ele lista entre os principais apoiadores civis, empresários urbanos e rurais, lideranças religiosas, parlamentares e elites burocráticas, principalmente no Judiciário.
No entanto, o pesquisador não considera necessário usar o adjetivo civil para indicar que a ditadura teve apoio externo à corporação militar.
“Nenhuma ditadura dura mais que um par de anos sem apoio de civis. Além disso, os adjetivos que são utilizados para indicar isso, como empresarial, midiática, civil, burocrática, eclesiástica, geram outros problemas ou inadequações. Principalmente pelo fato de que nem todos civis e demais grupos sociais apoiaram a ditadura de maneira unânime. Assim, a expressão ditadura civil-militar pode levar à ideia de que todos os civis apoiaram, o que não é verdade”, pondera.
Já a expressão ditadura militar, na visão de Sá Motta, é mais apropriada porque as forças armadas apoiaram o regime em bloco, tanto mais depois que os discordantes foram expurgados das fileiras, e as novas gerações de militares “foram socializadas de acordo com os valores da ditadura”.
“Os militares foram a alma e a força dirigente à frente da ditadura, ocuparam os principais postos e definiram quais civis ocupariam as outras funções. Eles governaram de olho nos interesses de outros grupos, principalmente o empresariado, mas as políticas voltadas à industrialização decorriam também do projeto político de fortalecer e legitimar a ditadura”, analisa.
O historiador da UFMG sinaliza, inclusive, que essa hegemonia dos militares é o que distingue o período aberto em 1964 de outros momentos de exceção da história brasileira, como o Estado Novo de Getulio Vargas (1937-1945).
Sá Motta acredita que um efeito colateral do uso do termo civil-militar pode servir ao propósito dos golpistas, quando afirmam que a ruptura não foi golpe e, sim, revolução, porque teria tido muito apoio social.
“Há riscos políticos envolvidos no uso tanto da expressão ditadura militar (apagar o apoio civil) como ditadura civil-militar (exagerar o apoio civil). De toda forma, eu prefiro usar apenas ditadura militar porque é mais preciso e adequado para expressar o que foi o regime político vigente no Brasil entre 1964 e 1985, quando fomos governados por ditadores militares, de triste memória”, contextualiza.
Retirada de culpa
Aarão Reis, da UFF, pontua que outro elemento que justifica o uso da designação civil-militar é evitar que civis que tenham apoiado o regime sejam vistos como responsáveis pelo processo de redemocratização. Ele cita o nome do ex-presidente José Sarney (1985-1990), primeiro civil a suceder a sequência de cinco generais na presidência da República, sem eleição direta.
“José Sarney foi um homem da ditadura o tempo todo, foi um líder do partido Arena [Aliança Renovadora Nacional], criado em 1965 e que deu sustentação à ditadura durante todo o tempo que ela durou. Fazer do José Sarney a inauguração de um novo tempo me parece problemático”, afirma.
“Sarney foi eleito em parâmetros criados pela ditadura, eleição indireta, e foi um homem representativo das elites civis que serviram à ditadura e que, só no finalzinho do processo de transição, é que mudaram de lado”, completa.
Golpe
Na batalha da historiografia do período, outro termo que já foi alvo de controvérsias é revolução, para se referir à ruptura institucional iniciada em 31 de março de 1964. Sá Motta enxerga no uso da palavra revolução uma tentativa de impor uma visão mais simpática ao regime militar.
“Os defensores de 1964 rejeitam o termo ‘golpe’ por implicar sentido negativo, enquanto ‘revolução’ e ‘movimento’ têm conotações mais simpáticas, sugerindo a imagem de que teria sido um período de mudanças positivas”.
Ele observa que há um paradoxo, pelo fato de a palavra revolução ser – em termos históricos – mais comumente utilizada por correntes de esquerda. “Ao ponto de alguns líderes da ditadura afirmarem que 1964 teve perfil mais próximo de uma contrarrevolução”.
“Apesar das polêmicas com a terminologia, a ditadura manteve ‘revolução’ como sua designação oficial, em grande parte por razões de propaganda e de estratégia de legitimação”, explica o professor, lembrando, por exemplo, que o termo é usado no sentido positivo para se referir a fatos históricos ocorridos em 1922 (Levante do Forte de Copacabana) e 1930 (movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o fim da Primeira República e o início da Era Vargas).
Nos anos 60, em todo o mundo, a palavra revolução ganhou um grande prestígio, complementa Aarão Reis. Ele atribui essa valorização a feitos como as revoluções Chinesa (1949), Cubana (concluída em 1959) e Argelina (1962).
“Então você tem um quadro de revoluções que tornaram muito popular a palavra. Nesse sentido, os golpistas de 64, que estavam empreendendo um golpe do estado e iriam liderar mais tarde um processo de modernização conservadora, se permitiram se apropriar dessa palavra e batizaram o golpe e a ditadura como uma revolução”.
Ditadores
Os pesquisadores ouvidos pela Agência Brasil identificam que a narrativa sobre o regime militar passa a ideia de que o país teve uma ditadura sem ditadores, em que os generais que ocuparam o Palácio do Planalto eram sempre aludidos como presidentes, em vez de ditadores.
Sá Motta detalha que eles eram presidentes de fato, pois ocupavam a presidência da República e eram reconhecidos como tal. “Mas eram presidentes ditadores, pois chegaram ao poder não devido a eleições populares, mas à escolha da elite militar, que após decidir quem seria o presidente enviava os nomes para serem chancelados por um colégio eleitoral, como determinava a Constituição autoritária de 1967”.
“Eles eram as duas coisas, portanto, presidentes e ditadores, e, naturalmente, preferiam o primeiro título e recusavam o segundo, que tem sentido negativo”, complementa.
Os ocupantes da presidência durante o regime militar foram os generais Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985).
“Esse tique de chamar os ditadores de presidente é uma expressão do conservadorismo no Brasil e uma expressão também da falta de reflexão da sociedade brasileira sobre a ditadura”, avalia o professor Aarão Reis.
O professor chama atenção também para o “número extraordinário” de logradouros públicos e escolas que conservam nomes dos ditadores. Um exemplo é a Ponte Rio-Niterói, batizada de Presidente Costa e Silva.
O professor da UFF, que diz haver falhas também na rememorização da ditadura do Estado Novo de Vargas, aponta que a não reflexão adequada sobre desvios do passado pode acabar resultando em atalhos para novos erros.
“Você não está imune à repetição dos erros, mas quando você não reflete, é praticamente certo que vai haver uma tendência muito forte a repeti-los”.
A DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE
No Rio Grande do Norte os efeitos da ruptura com a democracia foram sentidos de forma imediata. O Estado vinha de uma eleição acirrada e marcada pelo radicalismo em 1960 quando Aluízio Alves, após romper com Dinarte Mariz, derrotou Djalma Marinho e se tornou governador do Estado.
Aluízio deu apoio ao golpe e foi um aliado de primeira hora dos militares.
O prefeito de Natal era Djalma Maranhão, político abertamente de esquerda que atuava como terceira via entre as oligarquias comandadas por Aluízio e Dinarte. Djalma possui fortes divergências públicas com Aluízio.
Maranhão entraria para história também por ter feito a campanha de alfabetização “Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, baseada nos métodos do pedagogo Paulo Freire.
Com deflagração do golpe, ele faria da Prefeitura de Natal o principal foco de resistência no Rio Grande do Norte. O Palácio Felipe Camarão se tornaria o “QG da Legalidade e da Resistência”. No entanto, o entorno de Maranhã era frágil por se limitar a lideranças sindicais, estudantes e assessores.
Enquanto isso, Aluízio publicava na Tribuna do Norte uma nota em que pedia ao povo potiguar para se conservar calmo evitando manifestações que aprofundem divisões.
Apesar do discurso apaziguador caberia ao governador encaminhar as primeiras ações de repressão política no Rio Grande do Norte perseguindo lideranças sindicais e políticos adversários.
Djalma foi deposto do cargo em 2 de abril de 1964 quando tropa militares invadiram o Palácio Felipe Camarão e o prenderam enviando para o 16º Regimento de Infantaria, o conhecido 16 RI. Os militares ainda propuseram que ele renunciasse ao mandato conquistado nas urnas em 1962, mas o prefeito preferiu resistir.
Mas não seria Maranhão o primeiro preso político do novo regime. Durante as negociações para tirar o prefeito do poder o líder sindical Evlim Medeiros (Sindicato da Construção Civil de Natal) seria preso após ser reconhecido por um oficial do exército sendo levado para o 16 RI antes do desfecho que culminou com a prisão do líder da resistência ao golpe no RN.
Após ser posto em liberdade, Djalma Maranhão se exilou em Montevidéu onde morreu em 30 de julho de 1971, segundo seu companheiro de exílio Darcy Ribeiro, a causa teria sido saudade.
Aluízio que comandava as perseguições logo seria convertido de vilão a vítima.
Os dias seguintes ao Golpe seriam marcados no Rio Grande do Norte pelo fechamento de sindicatos e prisões de lideranças políticas.
Enquanto isso, o golpe reunia formalmente ferrenhos adversários. Aluízio e Dinarte estaria alinhados dentro do sistema governista e fundariam juntos a Arena no Rio Grande do Norte em 1965 embora a convivência não fosse boa.
Mossoró no contexto do Golpe
Na época do Golpe Militar Mossoró era administrada por Raimundo Soares, aliado da família Rosado, que comandava a política local.
Os principais líderes políticos da cidade, Vingt e Dix-huit Rosado, logo aderiram ao regime e fariam parte das articulações alinhados à liderança de Dinarte Mariz.
Em Mossoró não há muitos estudos sobre o que aconteceu na cidade na madrugada entre 31 de março e 1° de abril.
O único político mossoroense a organizar alguma forma de resistência foi o deputado estadual eleito em 1958 Cesário Clementino que fora líder sindical dos ferroviários. Em 1964 ele era suplente, mas teve esta condição política cassada pelo regime.
O período militar foi de hegemonia rosadista e de disputas pelo comando do Palácio da Resistência. A única quebra dessa sequência aconteceu em 1968 quando o ex-aliado dos Rosados Antônio Rodrigues de Carvalho derrotou Vingt-un por 98 votos.
O relatório Veras
Nos primeiros dias pós-Golpe, Aluízio Alves mandou buscar em Recife os delegados da Polícia Federal José Domingos da Silva e Carlos Moura de Moraes Veras que produziriam o “Relatório Veras” identificando os “subversivos” do Estado.
Eles produziram um trabalho de 67 páginas em que apontaram cujos alvos preferidos eram servidores da rede ferroviária, da Prefeitura de Natal, estudantes, artistas e sindicalistas.
Na lista constam o professor Moacyr de Góes, o médico Vulpiano Cavalcanti, o jornalista Ubirajara de Macedo e o pastor José Fernandes Machado. Além de, claro, Dajalma Maranhão.
No mesmo período, Aluízio Alves efetuou a demissão de 82 servidores públicos estaduais acusados de “subversão”.
Nos primeiros dias pós-Golpe o processo de união das oligarquias Alves e Mariz se deu no campo formal com os dois grupos organizando a Aliança Renovadora Nacional (ARENA).
No campo político o confronto entre os dois continuava ainda que estivessem alinhados com o regime. Apoiado por Aluízio, Walfredo Gurgel foi eleito governador derrotando Dinarte. O troco foi dado no ano seguinte quando Dinarte conseguiu vetar a candidatura de Aluízio ao Senado. Foi feito um acordo entre a Arena Verde e a Arena Vermelha que fez do mossoroense Duarte Filho senador. Isso não garantiu a pacificação do partido.
Estava claro que a força eleitoral de Alves não seria forte o suficiente diante de Mariz no plano nacional. Isso se materializou em 1969 quando uma articulação de Dinarte Mariz junto ao presidente Costa e Silva resultou na cassação do mandato dos direitos políticos de Aluízio Alves que ficaria dez anos impedido de candidatar-se.
Isso definiria os rumos da política potiguar nos anos seguintes com Aluízio se alinhando ao MDB e lançado o filho Henrique Alves e o sobrinho Garibaldi Alves Filho na política.
A partir de 1970, os governadores de todo o Brasil passariam a ser escolhidos de forma indireta e com influência dos ditadores de plantão. Nas escolhas de 1970, 74 e 78, mesmo no ostracismo Aluízio mantinha a popularidade e consultado em todas as definições dos governadores.
Assim, foram escolhidos governadores pela ordem: Cortez Pereira, Tarcísio Maia e Lavoisier Maia. Nas três disputas o mossoroense Dix-huit Rosado tentou sem sucesso se tornar governador do Estado, mas sempre fora preterido.
A escolha mais dramática aconteceu em 1974 quando estava tudo acertado para que o empresário Osmundo Faria (pai do ex-governador Robinson Faria) seria anunciado e na madrugada do dia que seria feito o anúncio, o padrinho político da escolha, o general Dale Coutinho sofreu um infarto e morreu. A fatalidade zerou as articulações levando Tarcísio Maia a ser escolhido.
PAZ PÚBLICA
Na eleição de 1978 foi forjada a primeira aliança entre as oligarquias Alves e Maia por meio da paz pública quando Aluízio Alves e Tarcísio Maia se juntaram em torno da candidatura ao Senado de Jessé Freire, da Arena. Aluízio chegou a indicar nomes no Governo de Lavoisier Maia.
A tal paz se desfez com o processo eleitoral de 1982 quando os estados voltaram a eleger seus governadores. Aluízio seria derrotado por 106 mil votos de diferença para o jovem ex-prefeito de Natal José Agripino.
Os perseguidos políticos e desaparecidos no RN

Após os primeiros dias do regime como já citado nesta reportagem a repressão voltou a se intensificar no Estado a partir do Ato Institucional número 5.
Em 1968, foram presos os estudantes Ivaldo Cartano, José Bezerra Marinho e Jaime de Araújo Sobrinho. O padre marista Emanuel Bezerra.
Gileno Guanabara também foi preso.
Um dos primeiros potiguares assassinados pela repressão foi Emmanuel Bezerra dos Santos, líder estudantil e liderança do Partido Comunista Revolucionário (PCR).
No Governo Médice, a repressão ainda foi mais intensa.
Um dos casos mais marcantes envolveu o casal mossoronse Luiz Alves e Anatália de Melo Alves. Ele foi preso e torturado, inclusive ouvindo gemidos de dor enquanto sua esposa também era seviciada.
Ela não resistiu e morreu em 22 de janeiro de 1972 após sessão de tortura em Recife se tornando uma mártir da resistência ao regime no Rio Grande do Norte. Os militares tentaram abafar o caso por meio de censura, mas os testemunhos de outros presos ajudaram a provar que ela foi executada por torturadores.
Em 17 de janeiro de 1973, outro potiguar atingindo pelo regime foi José Silton Pinheiro dos Santos foi outro potiguar assassinado pelo regime. Ele era estudante de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e membro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR).
SEQUESTRO
Um dos momentos mais tensos da ditadura militar foi quando os grupos de esquerda que aderiram a lutar MR8 e ALN sequestraram o embaixador americano Burker Ellbrick em 4 de setembro de 1969.
A ação contou com a participação do potiguar Virgílio Gomes da ALN que seria morto após espancamento por parte de membros da Operação Bandeirantes em 29 de setembro daquele mesmo ano.
Vítima do “Cabo Anselmo”
Uma das figuras mais controversas da ditadura militar foi José Anselmo dos Santos, conhecido como “Cabo Anselmo” que se infiltrou dentro das organizações paramilitares de esquerda como a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).
Neste agrupamento ele encontrou o potiguar Edson Neves Quaresma que foi assassinado após delação do “Cabo Anselmo”.
Bibliografia consultada
O golpe militar no Rio Grande do Norte e os norte-riograndenses mortos e desaparecidos: 1969-1973.
Autor: Luciano Fábio Dantas Capistrano
1964: Aconteceu em abril.
Autora: Mailde Pinto Galvão
Como se Fazia Governador Durante o Regime Militar: o ciclo biônico no Rio Grande do Norte.
Autor: João Batista Machado.
História do Rio Grande do Norte
Autor: Sérgio Luiz Bezerra Trindad
Subversão no Rio Grande do Norte: relatórios dos inquéritos realizados por José Domingos da Silva e Carlos Moura de Moraes Veras a mando do governo Aluízio Alves.
Autor: Comitê Estadual pela Verdade/RN.
Bastidores do Poder: memórias de um repórter.
Autor: João Batista Machado.
*Reportagem especial publicada há cinco anos e postada hoje com alterações de data.
Edição: Aline Leal – Agência Brasil
Matéria editada por este Blog